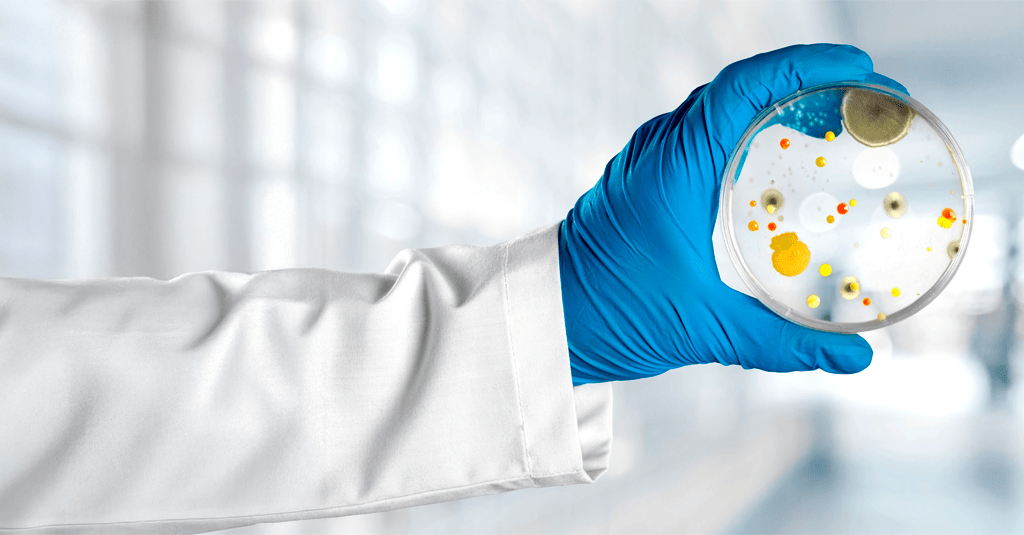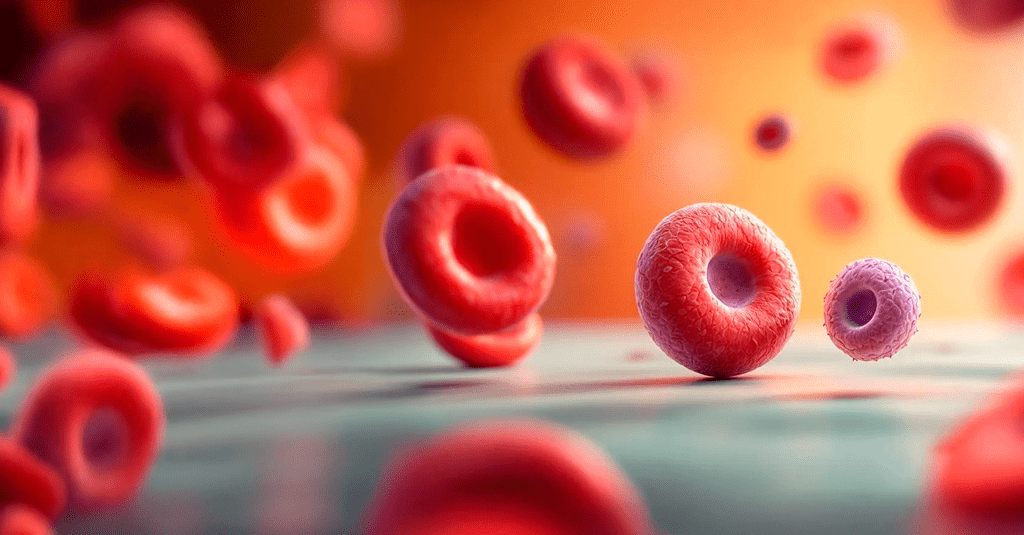A aula foi ministrada pela Dra. Cecília Bittencourt Severo, farmacêutica-bioquímica, doutora em Ciências Pneumológicas, professora adjunta da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), com 20 anos de experiência em diagnóstico de infecções fúngicas e atuação no ensino de micologia médica.
O encontro proporcionou aos participantes a oportunidade de refletir sobre a tomada de decisão no diagnóstico micológico, aprimorando a interpretação de resultados e a escolha adequada dos métodos laboratoriais, com foco na resolução de casos.
Perguntas & Respostas
A seguir, encontram-se as dúvidas que não foram respondidas durante o Encontro Online.
O hidróxido de potássio (KOH) é clássico para digestão de material ceratinoso, como pele, unha e cabelo, dissolvendo a queratina e facilitando a visualização de elementos fúngicos. Para líquidos biológicos claros, o KOH geralmente não é necessário porque esses materiais são naturalmente translúcidos.
Porém, na nossa experiência, também utilizamos KOH para materiais mucoides, como escarro viscoso e secreções espessas, com o objetivo de reduzir a viscosidade e facilitar a leitura microscópica, aumentando a chance de detecção de estruturas fúngicas.
Usualmente a base de dados MBT Compass Library, que acompanha o equipamento Bruker MALDI Biotyper.
Importante destacar que, apesar de boa performance para leveduras comuns, ela ainda é limitada para fungos filamentosos, exigindo atenção crítica ao interpretar resultados e eventualmente complementação com identificação fenotípica ou molecular.
Em geral, a presença de antígeno criptocócico no líquor indica disseminação e, portanto, espera-se também detecção no soro. Contudo, existem situações incomuns em que a infecção podemos encontrar o teste positivo apenas no líquor. Ainda assim é importante atentar também para casos de falsos negativos pelo efeito pós-zona.
Utilizamos principalmente a base de dados comercial padrão (ex.: MBT Compass Library, da Bruker), que já possui um bom desempenho para identificação de leveduras, mas ainda é limitada para fungos filamentosos. Para superar essa limitação, existem bases de dados complementares que podem ser incorporadas, como a MSI (Mass Spectrometry Identification database), uma base aberta e colaborativa que possui excelente cobertura para espécies de fungos filamentosos e dermatófitos.
Além disso, laboratórios podem desenvolver bibliotecas internas validadas com isolados locais bem identificados, o que melhora significativamente a acurácia em contextos regionais.
O antifungigrama para dermatófitos e outros fungos filamentosos envolvidos em onicomicoses ou dermatomicoses ainda não tem padronização robusta com breakpoints clínicos internacionalmente aceitos, apesar de existirem métodos técnicos (como o CLSI M38-A3). Na prática, o antifungigrama de rotina não é recomendado para orientar tratamento local, pois a terapêutica segue protocolos bem estabelecidos (ex.: terbinafina ou itraconazol).
Quando a solicitação vier de forma justificada, como em falhas terapêuticas ou casos refratários, o laboratório pode realizar o teste com orientação cuidadosa ao clínico sobre as limitações da interpretação dos resultados. É importante dialogar com o solicitante e avaliar a pertinência caso a caso, sempre explicando as limitações técnicas e interpretativas.
Para abranger fungos filamentosos e leveduras, recomenda-se a combinação de:
Ágar Sabouraud dextrose (SDA) com e sem antibióticos; Meio de Mycosel (ou similar, como Mycobiotic agar) — seletivo para dermatófitos (contém cicloheximida e cloranfenicol); Opcionalmente: Meio BHI para leveduras fastidiosas.
Essa combinação permite isolamento amplo e redução de contaminação bacteriana e fúngica saprofítica.